
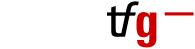

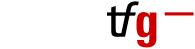

No início das leituras para este trabalho, não estava exatamente claro pra mim quais pertenciam a uma discussão teórica sobre o tema, ou seja, aquilo que me ajudaria a construir a base para o trabalho; e quais eram referências para o produto final em si.
Por ser um tema que sempre conversei informalmente, é um exercício diferente colocar as idéias em palavras que sejam claras para pessoas que não conhecem o objeto deste estudo. Por isso, primeiro escreverei sob um ponto de vista pessoal sobre show e turnê, depois à luz dos referenciais teóricos que li.
Ao longo deste ano de desenvolvimento deste trabalho, aconteceram duas viagens. A primeira aos Estados Unidos (terra das três maiores viagens anteriores) logo no início do semestre passado, quando as idéias que descrevo aqui ainda não estavam forjadas. A idéia de trabalhar as viagens a partir das imagens colhidas nelas (fotos e vídeos) como produto deste estudo ganhou muito com essa primeira viagem, e com este primeiro material coletado já pude perceber as imagens que faltavam e que deveriam ser coletadas em uma próxima viagem.
Esta segunda viagem, que aconteceu há poucas semanas, já teve seus registros mais organizados. Tendo ocorrido na Espanha e com uma estrutura maior do que as viagens anteriores, algumas coisas mudaram, como as tão citadas paisagens e paradas rodoviárias. As distâncias são menores, a comida é melhor e as camas foram todas de hotel.
Essas duas viagens e suas particularidades não serão comparadas aqui. As duas aparecem e se completam, uma como um registro à posteriori de uma longa viagem de proporções continentais, e a outra como o ponto de chegada de um estudo. A primeira gerou grande parte do material de texto e imagem aqui presente, e a outra aparece apenas no estudo final sobre turnê e pontuando o vídeo.
Vale aqui falar que este trabalho nunca se pretendeu a ser um diário ou um relato fiel, como fariam talvez muitos viajantes. As impressões que estão mostradas aqui às vezes podem ter um traço de estória, mas não linear ou sentimental. Este trabalho percorreu um caminho tal que hoje fala mais do silêncio do que da música, mais do sono do que da adrenalina e não sou mais eu quem passeia por essas estradas.
Uma viagem cujo propósito principal é um encontro entre pessoas tão particular quanto um show, e não outro tipo de encontro a trabalho ou consumo, de mercadorias ou culturas (como o turismo), me fez perceber o quanto este último é o padrão na nossa cultura, do ponto de vista da apreensão dos lugares, mesmo nas andanças mais espontâneas pelas cidades e pelo mundo. Esse modelo nos ajuda a dar sentido às viagens. Não tendo a possibilidade desse tipo de encontro numa turnê, fica difícil dar sentido a ela, transformando-a, num primeiro momento, em uma sucessão de (longas) estradas e cidades mais ou menos interessantes, de shows mais ou menos bem sucedidos, quando, na verdade, é mais que isso, ainda que difícil de qualificar.
Que uma turnê se organiza a partir de uma sucessão dos shows, isso é fácil de desenhar. Mas em uma turnê de uma banda independente, onde os locais dos shows variam muito (desde lugares bem equipados como um grande festival ao ar livre até um restaurante vegetariano sem palco) e onde quase tudo é feito por nós, a heterogeneidade dos contextos e situações é muito particular. Além disso, o show justifica a turnê, mas é no espaço-tempo entre os shows que ela acontece como viagem.
Músicos já escreveram sobre suas turnês, e já foram feitos inúmeros relatos de viagem através da história. Os fizeram escritores, poetas, fotógrafos, antropólogos, jornalistas e até arquitetos e urbanistas. Li alguns e conheço inúmeros. Eu nunca havia, porém, me aproximado da produção textual mais analítica sobre o tema da viagem, que busca entender e qualificar essas experiências e o encontro com cidades e pessoas novas, tanto do ponto de vista turístico como de um mais reflexivo. Tampouco havia olhado para trabalhos artísticos (muitos já conhecidos) e visto como a viagem, o deslocamento e o desterro é tratado como um tema.
Uma turnê é um caminho tortuoso de climas, cheiros e pessoas muito diferentes, de cansaço e clímax, de encontros inusitados, de despedidas, maravilhamento e algum torpor. No fim, tudo isso vira uma lembrança nebulosa e desordenada, difícil de acessar, que desperta uma certa nostalgia instantânea. Por causa do ritmo acelerado, a sensação é de uma passagem do tempo em uma velocidade muito diferente. Sozinho e sem imagens ou mapas a recorrer a memória se perde.
Como é impossível saber o que é o melhor a se fazer em 30 cidades consecutivas, nas quais provavelmente não vai existir tempo para se fazer nada do planejado, é preciso viver ligado numa chave diferente, abrindo o olhar e a memória para trabalhar de maneiras diferentes. Deixar-se levar pelo que surge espontaneamente, por proximidade ou coincidência, sem medo de cometer possíveis escolhas erradas ou ainda erros de julgamento. É impossível viver com preconceito, tudo é muito mutável e veloz. Tentar desacelerar o ritmo ou dar conta de tudo só pode gerar frustração.
O trabalho a ser produzido como exercício nesse TFG é uma tentativa de se aproximar dessa experiência num momento posterior ao seu acontecimento. Para mim, um exercício de ressignificação e reaproximação. Para o outro, a oportunidade de um contato sensível com uma viagem não vivida, de um contexto novo de viagem.
O material coletado durante as turnês (vídeos e fotos digitais e fotografias analógicas) é a matéria prima deste trabalho. Mas, como no trabalho de Ramak Fazel, em seu “49 State Capitols” o produto final não é uma tradução literal de nada. Ele é uma terceira coisa, uma criação.
Em primeiro lugar, para conseguir me aproximar das questões sensoriais e emocionais que vou tratar mais para frente, uma exposição em primeira pessoa dos diversos momentos que compõe uma turnê. Os diversos momentos destas viagens estão divididos em partes para que fique mais claro para mim e conseqüentemente mais fácil de entender. Deste exercício nasceu o roteiro do vídeo e os elementos dissecados no texto, e ele foi escrito antes da última viagem, a primeira à Europa.
Para que um show aconteça, o planejamento começa meses antes. Primeiro, num mapa, é traçado um percurso, com alguns shows maiores já confirmados como pontos fixos, e shows a serem marcados como pontos móveis. Depois de confirmados as datas e locais, os cachês e contratos são fechados e a turnê passa a “existir”. Todo esse trabalho é feito por um booking agent, um profissional que faz a ponte entre bandas e festivais ou casas de shows. Este trabalho começa com pelo menos seis meses de antecedência no caso de uma viagem ao exterior, e com dois ou três no caso de uma viagem pelo Brasil. A partir daí o bastão passa para a mão de outro profissional, um assessor de imprensa, que deve divulgar a turnê, a banda e cada show um particular, cidade a cidade.
Algumas semanas antes da turnê, com todos os shows já marcados, temos para cada dia um endereço, telefone, horário de passagem de som, do show, cachê, nomes dos produtores e onde vamos dormir. Tudo isso já está previamente definido. Para conhecer o percurso, traçamo-lo no mapa e descobrimos as distâncias entre cidades e o tempo da viagem a cada dia, aproximadamente. Nessa última turnê, por exemplo, chegamos a percorrer 15 horas em um dia. Viajamos sempre de van.
No dia do show propriamente dito, vindos de outra cidade, chegamos à casa de shows pouco tempo antes da passagem de som. Com o som passado saímos para comer ou comemos por lá mesmo. Depois de algum tempo, já é hora de organizar a mesa com os discos à venda e subir no palco. Tudo o que vimos da cidade até agora foi pela janela do carro ou talvez em algumas voltas pelo bairro, com sorte, guiadas por um nativo dali.
As músicas do show são essencialmente as mesmas todos os dias, mas todo o resto é diferente. O planejamento vai até imediatamente antes do show e recomeça imediatamente depois do show. O show em si é independente de todo o resto. Seu tempo é uma suspensão do tempo cronológico e um mergulho em outra temporalidade. Ele é o encontro, a nossa dedicação que encontra a abertura do público. Para que ele exista, é preciso uma entrega, um relaxamento de ambos os lados, para que uma comunicação seja possível. Ele tem, além da dimensão material do planejamento e da concretude da experiência, uma dimensão social/erótica que o difere dos outros momentos do dia e de outros tipos de eventos sociais em geral.
Um concerto acontece com a platéia sentada em silêncio absoluto, um filme no cinema, no escuro com todos os olhos voltados para a tela. No show tudo é permitido e encorajado: dançar, fechar os olhos, cantar, gritar e até conversar. Existe uma interação social na platéia, uma dos músicos com o público, além, é claro, daquela que acontece no palco, que desenha o show, latente em todos os outros momentos da viagem, a dos músicos entre si.
As expectativas da banda, a busca por uma performance perfeita, que foi trabalhada nos ensaios, repetindo diversas vezes a mesma música e todo o controle dos músicos sobre a execução das músicas é esquecido no palco. Ali, existe apenas uma dedicação total ao show, composto de músicas que já são tão conhecidas pela banda que, se tudo estiver espaço para fluir, são tocadas quase que sozinhas pelas mãos. Ainda assim, para o público, quase sempre tudo aquilo que acontece no palco é inédito, o que torna estar no palco ainda mais interessante.
Depois do show o que passa a existir, idealmente, é um vínculo forte entre público e banda, energia do lado do público e adrenalina do lado da banda. Depois do show existe uma descontração, uma vontade instantânea de se aproximar, o público de nós e nós daquelas pessoas, das outras bandas e daquele lugar. É um chamado inconsciente de dar nome ao que acabou de acontecer, dos dois lados. A minha mania por exemplo é perguntar o número de habitantes da cidade e a atividade que movimenta a cidade (indústria, agricultura, universidade). Muitas vezes não ajuda a entender a cidade, mas é uma forma de aproximação.
O show independe de tudo isso, mas faz parte e é o “responsável”. Muito forte nesse momento é também como cada um de nós se sente, com mais energia ou mais cansado, porque muitas vezes o único momento real de energia e força é em cima do palco.
No caso de uma turnê longa, o cansaço vai aumentando com o passar dos dias e o fôlego para alongar a noite vai diminuindo, e acabamos “conhecendo” menos as pessoas e cidades em que tocamos no fim da turnê.
Se há um estranhamento da nossa parte, existe às vezes a vontade de ir logo para onde vamos dormir, como por exemplo, se o público é pequeno ou se o lugar é estranho. De qualquer maneira, quase nunca conhecemos o lugar em que vamos nos hospedar antes da hora de ir para casa. Pode ser um amigo antigo, o produtor do show ou uma pessoa que acabamos de conhecer. Raramente dormimos em hotéis, salvo quando temos que dormir uma noite na estrada.
Essa combinação de particularidades na maneira de conhecer um lugar pela primeira vez desenha cidades que são provavelmente muito diferentes das de um morador ou de um visitante qualquer. Da maioria das cidades, conhecemos apenas uma casa de show, uma casa e talvez um restaurante. Talvez um trecho de um bairro mais moderno e o perfil de um bairro residencial. As alças que levam as avenidas às estradas e por fim as estradas em si.
Charlotte, na Carolina do Norte, por exemplo, teria um desenho bem peculiar: um anoitecer na van ao chegar em um bairro de ruas largas com grandes prédios comerciais (farmácias com muitas vagas para carro, McDonald’s, ...) cortadas por ruas menores com algumas casas, vielas e alguns restaurantes. Chegando ao bar, freqüentadores que chegam de moto e carro, bem roqueiros, música alta e cerveja. Montagem e passagem de som sem contratempos. Me troco e passo maquiagem num banheiro escuro, como de costume. Aproveito o tempinho de sobra para comprar umas coisinhas na farmácia(/supermercado/shopping) logo em frente, pra trazer para casa. Na hora de comer, virando a esquina, entramos em um restaurante jamaicano, com uma decoração de gosto duvidoso, que está vazio. Toca uma rádio com música pop da Jamaica. No prato, saudades de casa: arroz, feijão, quiabo e carne desfiada. Nos copos, água. Uma dose de rum jamaicano, lembrando as melhores cachaças, para ser degustada por todos. Conversas com a filha da chef, que queria conhecer o Brasil, sobre Jamaica, Brasil e música. Voltando ao bar, o show. Som excelente, perfomance satisfatória. Na mesa da merchand, um casal na casa dos 40 que nos viu em Austin, TX, no ano anterior nos entrega um DVD com o show texano. Mais um pouco de rum não tão bom quanto o outro. Hoje vamos dormir na casa do produtor do show, que acabou de ter o rádio do seu carro roubado. Quando estamos prontos para ir embora, aparece uma menina brasileira (“a única brasileira de Charlotte”) e conversamos um pouco sobre sua adolescência norte-americana, seu emprego entediante e, mais uma vez, sobre o Brasil. Já na casa do produtor, uma casa antiga térrea, detonada, com carpete cobrindo tudo menos a cozinha, aquela já familiar guerra para decidir quem fica com a melhor (única) cama. Resolvemos isso com o bom amigo revezamento e o Antonio acaba dormindo na soleira da lareira com umas almofadas. Na manhã seguinte, ninguém na casa, damos uma olhada nos instrumentos dos moradores e na coleção de discos, coroada por um disco do Prince com uma capa extravagante. Mais uma vez tentamos entender um pouco sobre a relação peculiar dos jovens americanos emancipados com suas casas, e a atroz falta de cuidado e noções de limpeza. Banhos, mau-humor matinal. Belisco um lance natureba (que não faz muito sucesso com os meninos) carregamos a van de novo e, levados pelo motorista do dia (que me escapa quem foi), caímos na estrada mais uma vez. Agora de dia, vislumbramos o bairro residencial pacato que estamos onde moram famílias sulistas e jovens em busca de um aluguel barato e alguma tranqüilidade e segurança. Mais uma vez caímos na Interstate 75, pulamos o café da manhã e partimos direto para o almoço (Subway, ou talvez Bojangles’), depois de algumas horas na estrada.
Do lado de fora da janela, a paisagem lembra o Brasil. Charlotte já ficou para trás há algumas horas e estamos quase na Georgia.
Passamos pela cidade, e a cidade passa por nós. A cidade existia antes e continuará a existir depois do show. Para alguns, esse antes e depois será um pouco diferente. Para nós, com certeza alguma coisa é acrescentada a cada nova cidade. Mas é o trajeto entre as cidades e o percorrer das estradas que ocupa mais tempo da viagem, às vezes todo o tempo entre o acordar e o palco. Esse tempo não pode ser deixado de lado na descrição de uma viagem como essa. Não é a viagem de avião com serviço de bordo e lançamentos hollywoodianos na sua televisão particular. É outra coisa, não é tempo perdido, mas paisagem percorrida, conversa entre amigos, música e um país cada vez mais familiar.
Numa turnê, a estrada ocupa quase metade do tempo que passamos acordados. O endereço no GPS, o nível da gasolina e o horário no cronograma ditam esse ritmo no nível concreto. Mas viver esse tempo se dá de maneira muito diferente. A geografia da paisagem, a relação da estrada com ela, (se é um deserto ou uma rodovia urbana, por exemplo), o clima no dia e o tempo da fome ou cochilo é que vão dar o passo desse percurso. Ele pode despertar intenso interesse, como o deserto do Arizona, ou tédio, como uma estrada na Nova Inglaterra num dia chuvoso. Estamos todo o tempo juntos e ao mesmo tempo estar dentro do carro em uma estrada longa convida a uma apreciação solitária algumas vezes.
A paisagem corre no tempo da estrada: horas, minutos, segundos, perto ou distante. Mas para cada um a temporalidade individual corre livremente, podendo o devaneio armazenar na memória aquela paisagem sob sentidos e relações diferentes. O estado permanente de trânsito é um condição inevitável em uma turnê. A velocidade da paisagem não vai mudar. Mas a forma na qual ela é percebida varia imensamente de acordo com humores e climas e distâncias.
As pausas que pontuam o contato com essa paisagem, para abastecer e comer, te jogam num ambiente novo que às vezes parece ser sempre o mesmo. Novo ou semelhante, ele logo fica para trás. Essas pausas vêm às vezes com alívio, às vezes como sonho. Às vezes conversa, às vezes silêncio.
O contraste entre essas três qualidades espaciais: a paisagem fragmentada da estrada, a paisagem sem qualidades das paradas e a imagem particular da cidade e a imagem que conseguimos dela, colando seus pedaços, pode ser costurado como uma colcha de retalhos que é uma viagem como essa.
Como um contato com o mundo atual, a turnê independente é mais uma das formas de se deslocar que existem hoje. Na atualidade, o turismo com certeza é predominante, mas o turista não está sozinho. Ao considerar diversos tipos de viajantes de hoje, e tentar se aproximar de seus interesses e aspirações creio que podemos entender um pouco mais sobre a relação do homem contemporâneo com o espaço e as cidades que ele percorre.
Seja por pressões da natureza ou problemas sociais, como guerras e diásporas, como diz Caren Kaplan em seu livro Questions of Travel – Postmodern Discourses of Displacement, o homem sempre foi impelido a sair de sua zona de conforto e enfrentar o vasto mundo para seguir vivendo. Até hoje podemos ver exemplos de exilados, vítimas de desastres naturais e guerras civis se movimentar pelo mundo em busca de segurança, às vezes custando abandonar suas raízes e começar de novo em um lugar estranho.
No passado, todos fomos nômades, mas ainda hoje essa nacionalidade sem nação leva Romanis à Italia ou à França sob olhares desconfiados de quem não entende o não-pertencer. Se as cidades só existem como conseqüência do sedentarismo, “conquistado” pelos nossos antepassados, os nômades de hoje sempre estarão do lado de fora dessa ordem. Todo o esforço de organizar o território com ferrovias e estradas e as cidades com saneamento e outras redes controla os fluxos para controlar o espaço. O nômade usa a cidade, mas não faz parte dela. “As metrópoles contemporâneas têm assistido ao desaparecimento da figura do nômade e ao crescimento do número de exilados” uma mudança que mostra que o nômade errante se viu pressionado a entrar na sociedade, ou foi a sua errância limitada pelos caminhos já traçados pelo desenvolvimento. Os exilados, sedentários de outras terras, são muitas vezes forçados ao nomadismo, por já não pertencerem a lugar nenhum, e conseqüentemente ao desterro e à ilegalidade.
Um outro tipo de viajante ganhou força com o desenvolvimento das navegações: aquele que busca, no mundo conhecido ou desconhecido, novas terras ou riquezas, domínios. Esse explorador “civilizado” dizimou culturas inteiras em nome da sua ‘superioridade’, impondo seus valores e, tornando-se ele o nativo, chamou de seu o novo mundo. Se com o desenvolvimento de ciências como a antropologia passou-se muito recentemente a compreender o valor dessas culturas não européias, o cientista moderno ainda se equivocou ao se aproximar de tribos e comunidades tradicionais, muitas vezes sem o olhar treinado de quem se entende como parte do que estuda e de como a sua presença ali pode contaminar esses dados. Com o preço de, ainda que com boas intenções, atropelar processos históricos diferentes do seu, o ocidental aceitou o nativo e quis cuidar de sua preservação (mesmo que a seu modo).
Paralelamente ao interesse por formas diferentes de se relacionar em sociedade ou com a natureza, o homem moderno europeu olhou para o passado para entender mais de si mesmo, e foi atrás de conhecer onde sua história havia começado. Esse passado foi se aproximando rapidamente, e ganharam interesse acontecimentos do passado recente, daquilo que ele mesmo viu entrar para a história. Nesse processo, o europeu viu seu continente se transformar no destino de multidões de europeus de diversas nacionalidades e de não europeus, até que o mundo todo se tornou um grande destino turístico.
Analogamente ao antropólogo que esquece de si, o turista muitas vezes esquece de como a sua simples presença ali altera profundamente o funcionamento e a autenticidade do lugar, e a possibilidade desse tão sonhado encontro com o real. Se o navegador sem dúvida teve um efeito grande nas terras que conquistou, também esse novo viajante modifica o monumento, cidade ou país que ele visita. Ele projeta expectativas e necessidades infinitas a serem cumpridas, quer ser servido e paparicado, e quer levar para casa um pedaço de tudo aquilo que conheceu.
Na pós-modernindade na qual vivemos hoje, que fragmenta o tempo o espaço e as relações humanas, é possível um outro tipo de contato? Ou ainda, um contato aberto, um viajante errante (e não um nômade) já existiu e algum momento? O que ele trouxe para casa? O peregrino que viaja para se conhecer, o flanêur, o situacionista, o explorador moderno de terras longínquas existe fora dos livros? Ele também transforma o mundo enquanto é transformado por ele? (o trecho do texto sobre cada tipo de viagem foi suprimido)
Na tentativa de descrever a turnê independente como uma categoria de viagem, ou seja, como uma maneira de conhecer pessoas e lugares, e, porque não, a si mesmo, vou começar da maior escala, a estrada, até chegar à menor, a relação interpessoal e a imaginação. Ao final, espero ser possível a qualquer um desenhar as sensações desse passeio, com suas cores e cheiros, na sua própria mente, e, quem sabe, a tornar vivo um novo olhar dirigido aos diversos passeios presentes na vida.
Como numa viagem de trem ou num vôo, na van ou no carro, existe a janela, antes de tudo. É fora da janela que o olhar passeia e muitas vezes onde o devaneio acontece. Do lado de dentro, o disco no rádio, a conversa e o sono se encontram emolduradas por uma paisagem que corre e muda, mais rápida que as faixas de um disco ou que o desenrolar de uma conversa.
As estradas de um país, seja o seu ou o do outro, recortam o terreno, expondo e escondendo determinados pontos de fuga e perspectivas, mesmo que não de propósito. No percorrer desses caminhos, uma cartografia é desenhada, ainda que muito imprecisa, fundindo as imagens do mapa rodoviário e do GPS com a paisagem real. Se no turismo de massa o percurso pode ser suprimido ao máximo, aqui ele se firma como a linha viva que liga os territórios a serem conquistados. Ele permite chegar a cada cidade com um olhar lavado por horizontes.
Por onde passamos hoje? Como chamava aquela cidade na qual comemos hoje? Não era uma cidade, era só uma parada rodoviária na beira da estrada igual a milhares de outras, onde comemos o que comemos sempre. Esticar as pernas e encher o tanque, comprar uma água e tirar uma foto da loja de conveniência. Quem são essas pessoas que também param aqui e para onde elas vão. De volta para o carro e os cactos viram palmeiras que viram coníferas e picos nevados. Uma placa com o nome do destino e o corpo demonstra um desejo de se apoiar sobre os pés.
Mais um pedágio, uma ponte cartão-postal e por fim, pessoas.
A temporalidade na estrada são as horas percorridas nela, pelo relógio e pelo sujeito, mas e a espacialidade? Onde ela está, dentro do carro ou no asfalto, no fluxo de carros ou na paisagem? Ela é um não-lugar e o viajante percorre um caminho vazio de sentido histórico definível, ou talvez ela seja uma outra coisa. A estrada não é um aeroporto. O carro não é uma aeronave. Em comum, talvez, o sono e a introspecção, estar sempre olhando para frente. A nuca de alguém ou as faixas no asfalto. Daí a janela. (No avião, a TV, que ajuda a esquecer que se está enfileirado a olhar para um banco a menos de 40cm do seu rosto é a verdadeira janela do avião.)
O caminho trilhado em uma turnê é totalmente pré-definido, mas só se viaja no presente, a paisagem só existe no presente. Na última viagem, pela Espanha, a paisagem era nova, seus castelos, suas cidades mouriscas trouxeram um novo interesse pelo que se via. Tornamos-nos especialistas em paisagens. Não em geografia ou geologia, nem mesmo em história, mas nas imagens que surgem daí. “Isso se parece com o Brasil”, foi dito chagando em Portugal ou em North Carolina. “Este deserto é o do Papa-léguas” no Arizona.
Por fim, diferente de um pedestre, a paisagem é vista de dentro de uma nave, que é a sua casa. É de onde você sai e para onde volta todos os dias, e onde, no porta-malas, moram os instrumentos e as bagagens diminutas, encaixados em um quebra-cabeça milimétrico. Nessa casa moram seis pessoas, e ali existe interação e desligamento, simultaneidade e “privacidade”, como num livro, dentro de um par de fones de ouvido, ou durante o sono. Às vezes, estamos cada um sozinho, só que dividindo um mesmo espaço, mas quase sempre estamos como em uma pequena casa cheia de riso.
É de dentro desta nave que um mapa se torna um país. É também daí que placas se tornam cidades. Nessa velocidade, um significante é também o significado, o posto de gasolina é também lugar e um hipermercado ao longe é também arquitetura, muitas vezes a única disponível.
Num turnê como essa, a cidade que se conhece, como descrito na primeira parte deste trabalho, é uma união de fragmentos, muitas vezes: a casa de shows e seu entorno (cujo conhecimento depende muito do clima, do tempo para isso e do tipo de entorno), a casa/hotel onde dormimos e, já de volta ao carro, a chegada e partida do perímetro urbano, as rampas de acesso à cidade, a cidade ao acordar e ao que se consegue ver da cidade a 60km/h.
Em Questions of Travel, Kaplan coloca que o deslocamento media a relação paradoxal entre espaço e tempo na modernidade, ou seja, mesmo não viajando, o deslocamento é uma das formas na qual ocupamos espaço-temporalmente as cidades, mesmo quando em casa. É essa a essência do habitar as cidades na turnê.
Para Kevin Lynch, a legibilidade de uma cidade e o tempo despendido em percorrê-la são atributos essenciais para que ela evoque, na mente, uma imagem forte e reconhecível para o sujeito. Ele está tratando, antes de tudo, da imagem de uma cidade para o seu habitante, e de como ele consegue se relacionar com as diversas escalas presentes no seu desenho. Mas usando essa idéia, a da possibilidade de se construir uma imagem mental de uma cidade, a Paris do turista é mais possível do que a de Charlotte, NC quando conhecida da forma que conhecemos. Talvez por que Paris é mais “imaginável”, mas não posso dizer com base no que conheci da cidade, como contada no texto Uma Turnê.
Esse percorrer a cidade de maneira tão direcionada, semelhante talvez a do cotidiano, mas transferido para um lugar desconhecido, é quase um exercício de deriva rodoviária involuntário, onde todos os trajetos são definidos, porém tudo é também novo. Diferente das paradas rodoviárias, as cidades são repletas de imagens e signos novos a serem conhecidos.
Uma casa de shows em São Paulo ou Valencia tem muito em comum, e não ajudam a conhecer a história de uma cidade, por exemplo. Você pode conhecer o público freqüentador de shows de rock de lá, e talvez isso lhe diga alguma coisa, mas, no geral, só mesmo o sabor da cerveja local e o sotaque. No entanto, ao ir direto a esse tipo de lugar em todas as cidades, ainda que semelhantes, é muito diferente de conhecer Mcdonalds pelo mundo. Ali, ao menos para nós, músicos, é onde vai ocorrer grande parte do nosso contato com outras pessoas, as conversas na língua local, a troca. Esse é o centro, no sentido que Barthes usa o termo, da nossa viagem.
Os únicos momentos no qual saímos do caminho traçado pelo tourbook é quando nos encontramos em cidades familiares como Nova York, ou quando temos um dia sem show, como em Barcelona e Zaragoza. Podemos assim nos separar, ir fazer um passeio sozinho, conhecer um ponto turístico (porque não?). Podemos também não fazer nada e apenas descansar. Esse tempo é muito precioso, e deve ser usado com algum planejamento, mas não muito, senão voltamos à velha formula de horários e destinos. Em poucos dias ou horas estaremos de volta à estrada ou de volta pra casa. De volta às horas de espera, entre acontecimentos.
De dentro do carro à casa de um nativo de bom coração que nos abriga, na turnê mais do que em outro tipo de viagem, o tipo de contato e convivência com outras pessoas muda muito e muito rápido
De dentro do carro à casa de um nativo de bom coração que nos abriga, na turnê mais do que em outro tipo de viagem, o tipo de contato e convivência com outras pessoas muda muito e muito rápido. Talvez tão rápido quanto quando estamos em São Paulo, mas aqui sem a possibilidade de encontrar algum outro rosto familiar.
Somos seis e logo somos duzentos, mas raramente somos menos que seis.
No carro, somos melhores amigos e companheiros de viagem. Na parada rodoviária somos um grupo estranho de jovens de etnia indecifrável que consomem comida e gasolina, sem interagir com mais ninguém, só garçonetes e caixas. Na casa de shows somos uma banda do Brasil, aliviada em estar ali e interessada em fazer um bom trabalho com aquelas pessoas: o técnico de som, o produtor. No palco somos o Garotas Suecas, cantando em português e tentando fazer o público dançar, instrumento em punho (finalmente!), em Columbia ou Porto Alegre, em Zaragoza ou San Diego. Depois do show somos vendedores de discos (em qualquer língua) e fazedores de amigos instantâneos, além de ‘especialistas’ em música e cultura brasileira e amadores em história mundial.
O turista é quase sempre o que somos na parada rodoviária, um consumidor desconhecido. Grandes artistas nunca são o que somos depois de um show. Mochileiros não sobem no palco e empresários tampouco. É essa combinação de encontros que define uma turnê independente como viagem. O público do show é espectador, mas é também interlocutor e, acima de tudo, o show é uma possibilidade de vínculo. Essa dimensão erótica pontua e justifica o esforço despendido para que uma viagem assim aconteça. Uma turnê não pode existir sem o encontro e a paisagem é o caminho que leva a ele.
Desde o princípio desta pesquisa, quis manter as possibilidades para o ‘produto final’ em aberto, sempre pensando em trabalhar as questões levantadas pelo texto a partir das imagens – fotos e vídeos – coletadas ao longo das viagens. Esse exercício final já teve inúmeros de formatos no mundo das idéias, até por fim ser sintetizado através das fotos e do vídeo que o compõe hoje.
No princípio, existia uma idéia muito forte de trazer o espectador para dentro do trabalho, para dentro da turnê, como através de uma instalação. O que foi, ao longo do tempo, modificando essa idéia foi principalmente o espaço que as leituras e o texto foram tomando dentro do trabalho, até por fim chegar à conclusão de que uma instalação seria um outro trabalho por completo. O que me importa, hoje, é mais o texto e o produto somados, não separados. Este é o ‘produto’ deste trabalho.
Primeiro vale contar um pouco sobre a coleta das imagens nas viagens. Desde a primeira turnê, três anos atrás, viajei com duas câmeras: uma Lumix, camerinha digital que faz vídeos, que hoje já está para ser aposentada e uma Nikon FM2, velha de guerra, mais parruda, mas que também sofreu alguns acidentes de percurso. Isso porque a turnê não é muito suave com quem a percorre. Meu primeiro teclado perdeu uma tecla em uma revista de aeroporto, as guitarras tem cicatrizes das viagens de avião e da vida no porta-malas. Quis, no princípio, comprar uma câmera profissional de vídeo, mas mais um volume para ser transportado (com cuidado) por mim seria impossível, além da questão de segurança. Meus volumes são os seguintes: um teclado (bem pesadinho, que habita um hardcase), uma pequena mala de 25x35x40cm (onde estão todas as roupas, sapatos e necessaires), uma sacola com o figurino do dia e uma bolsa (onde ficam as câmeras em questão, um livro, um caderno e mais toda a sorte de tralhas que constituem uma bolsa). Por isso, as imagens captadas estão dentro das possibilidades permitidas pelas ferramentas que podiam ser transportadas.
Além da questão das câmeras em si, existe uma outra peça fundamental: nada de tripé, apenas câmera na mão. Os reflexos do vidro do carro, as imagens trêmulas... tudo isso faz parte da vista da janela e logo da paisagem captada.
Uma terceira questão importante de ser ressaltada, é que, salvo na última viagem, todo o descarregar e carregar da van era feito por nós. Por isso, das primeiras turnês, não existem imagens desse momento, nem da passagem de som, nem da chegada no local de descanso... minhas mão estavam ocupadas. Todas as imagens deste tipo são desta última turnê, onde tínhamos um tourmanager para dividir esse esforço, uma van bem diferente das outras - além de não termos que dirigir.
No caso das fotos, na primeira vez que usei o filme slide invertido para fotografar as paisagens da turnê, percebi a qualidade de sonho que aquelas cores distorcidas produziam. Essas imagens são os cartões-postais dos lugares dos quais não se produzem cartões-postais – postos de gasolina, estradas e não-lugares, palcos desmontados e músicos descansando.
A partir dessa distorção provocada pelo crossprocessing as paisagens ganham um sentido novo, uma qualidade visual diferente daquela vista a olho nu. A ferramenta aqui dita o comportamento da imagem, eu perco o controle do resultado e surge uma imagem que nunca existiu fora do filme de prata. Também foi usado o filme colorido puxado, que causa um efeito semelhante, expondo o grão, mostrando o papel e a gelatina. É o traço do pincel da fotografia, é o c'est ne pas une pipe. Num formato de cartão-postal, é o anti-cartão postal.
Com a vontade de reforçar a horizontalidade da paisagem, escolhi apenas fotos na orientação paisagem, mesmo quando não é uma foto da estrada. As imagens foram selecionadas, fora isso, por critério estético e pela capacidade de reforçar e exemplificar as qualidades destas viagens descritas no texto. Elas ajudam o texto, assim como o vídeo.
Por fim, foi produzido um mapa, a última peça a ser somada ao trabalho, onde estão estampadas as quatro turnês norte-americanas, cerne deste trabalho. Ele é mais um acessório à leitura do texto, ajuda a visualizar essas distâncias e percursos tão enfatizados. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a ‘próxima’ cidade às vezes está a cinco, seis horas de distância, quando não a vinte duas horas, como é o caso do percurso Austin–Palm Springs, percorrido na primavera de 2010.
Com este trabalho, encerro a minha trajetória dentro da FAU e inicio uma outra, ou muitas outras, fora daqui. Essas palavras e imagens me permitiram sentir de fato o quanto tudo aquilo que foi percorrido durante estes sete anos e meio (!) se soma para construir o olhar que agora direciono, treinado, para o mundo.
